As descobertas sobre as diferenças fisiológicas
entre mulheres e homens devem mudar a prevenção,
o diagnóstico e o tratamento de diversas doenças
– especialmente no caso delas
Karina Pastore e Paula Neiva
Até pouco tempo atrás, do ponto de vista da medicina, os homens e as mulheres eram, exceto pelos seus órgãos reprodutores, essencialmente iguais. Na definição do antropólogo e anatomista alemão Rudolf Virchow (1821-1902), o homem era um ser humano ligado a um par de testículos e a mulher, por sua vez, um par de ovários ligado a um ser humano. A enunciação de Virchow, considerado o pai da patologia moderna, norteou praticamente todos os estudos científicos sobre a fisiologia humana. Nos últimos vinte anos, porém, investigações científicas começaram a derrubar a clássica teoria de Virchow. Homens e mulheres pensam, agem e sentem de modo completamente distinto. Eles e elas enxergam, fazem a digestão, sentem cheiros, respiram e transpiram de forma diferente. O coração deles bate de um jeito e o delas de outro. O pulmão, o sistema imunológico, a audição, o paladar, a pele... Enfim, as dessemelhanças entre os sexos vêm surpreendendo mesmo os pesquisadores da medicina de gênero – um ramo que nasceu em meados da década de 90 e propõe condutas específicas para cada sexo, tanto na prevenção como no tratamento de diversos males.
A medicina de gênero é uma revolução. "Vivemos um dos momentos mais fascinantes da ciência. Para onde quer que olhemos, há sempre uma diferença entre homens e mulheres", diz a cardiologista americana Marianne Legato, no livro Eve's Rib (A Costela de Eva). Essa revolução só não ocorreu antes porque, além da inexistência de exames clínicos e de imagem mais acurados, capazes de mostrar as diferenças fisiológicas determinadas pelo sexo, havia um secular entrave cultural: numa sociedade dominada por homens, em que a mulher tinha um mero papel coadjuvante, considerava-se mais adequado ao estudo do corpo humano o organismo masculino – do qual o feminino nada mais seria do que decalque. Ecoava-se, assim, no plano científico, a passagem bíblica do Gênesis: "E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher". Para se ter uma idéia de aonde o patriarcalismo nos levou nessa área, dois terços das doenças que afetam os dois sexos foram investigados exclusivamente em homens. "Tradicionalmente, a mulher só era considerada objeto de pesquisa científica sob 'a ótica do biquíni'", como define a médica Marianne, fundadora, ainda, do departamento de medicina de gênero da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos.
No entanto, o caminho a ser percorrido na diferenciação dos tratamentos é longo. Tome-se um exemplo bastante ilustrativo: seis em cada dez remédios disponíveis hoje no mercado são eliminados de forma mais rápida do organismo feminino do que do masculino. Isso quer dizer que o tempo de ação desses medicamentos tende a ser menor nas mulheres. É o que acontece com o anti-hipertensivo verapamil. Como o remédio desaparece mais velozmente da corrente sanguínea das mulheres, o tratamento não é tão eficiente entre elas quanto é entre eles. A explicação está na enzima CYP3A4. Ela é 40% mais ativa nas mulheres do que nos homens. Produzida no fígado e nos intestinos, a substância é uma das principais responsáveis pelo metabolismo de medicamentos em geral.
Sob o ponto de vista estritamente biológico, as diferenças mais marcantes entre homens e mulheres decorrem da interação entre os genes e os hormônios. E, entre as cerca de três dúzias de hormônios que regem tanto o organismo masculino quanto o feminino, dois têm papel preponderante. A testosterona é fundamental na formação e manutenção das características físicas masculinas. O equivalente feminino da testosterona é o estrógeno. Eles não só determinam características exteriores e comportamentos como regem o funcionamento de órgãos essenciais. Se é graças à testosterona que os homens têm músculos mais desenvolvidos, são mais peludos e têm voz mais grossa, é por causa dela também que o esqueleto deles está mais protegido contra a osteoporose. Se é graças ao estrógeno que as mulheres têm seios protuberantes e a voz mais aguda do que a dos homens, é por causa dele, ainda, que as artérias cardíacas delas estão mais protegidas contra o depósito de placas de gordura – pelo menos até por volta dos 45 anos, quando a produção desse hormônio pelos ovários começa a minguar, até cessar definitivamente com a chegada da menopausa. Mais: asma, artrite reumatóide, epilepsia, diabetes e depressão, entre outros males, podem ter seus sintomas agravados pela falta de estrógeno.
As diferenças fisiológicas entre homens e mulheres são mais conhecidas na cardiologia. Num editorial recém-publicado na Revista da Associação Médica Americana (cuja sigla, em inglês, é Jama), o médico Roger Blumenthal, professor da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, defende incluir dois novos parâmetros para avaliar o risco de uma mulher vir a sofrer de uma doença cardiovascular no prazo de dez anos. Ele argumenta que a análise do histórico familiar de infartos e derrames precoces (ou seja, em parentes diretos com menos de 60 anos) e a medição das taxas sanguíneas da proteína C-reativa ultra-sensível, associada à presença de inflamação arterial, são armas poderosas para a proteção do sistema cardiovascular feminino – sem menosprezar, é óbvio, os fatores de risco tradicionais, como obesidade, tabagismo, sedentarismo, diabetes, hipertensão e colesterol alto, entre outros. Essas evidências surgiram de um trabalho de dez anos, com 24.000 mulheres saudáveis acima dos 45 anos, o U.S. Women's Health Study, patrocinado pelo governo americano. A mudança reside no fato de que a concentração de C-reativa e o histórico familiar da doença são ignorados pela maioria dos médicos na avaliação de suas pacientes. O impacto da nova proposta é enorme: ao se levar em conta esses dois fatores, 25% das mulheres que, pelos parâmetros atuais, são consideradas pacientes de médio risco seriam transferidas para o grupo das de alto risco. Diz o cardiologista Otavio Gebara, professor de cardiologia da Universidade de São Paulo: "Acredito que a inclusão desses novos marcadores poderá salvar inúmeras vidas".
A preferência pelo sexo masculino como objeto de estudo médico era justificada basicamente por dois motivos. Por causa da montanha-russsa hormonal a que as mulheres estão sujeitas todos os meses, seria preciso um grande número de cobaias do sexo feminino para chegar a informações significativas e confiáveis – o que demanda tempo e dinheiro. Já com os homens não há esse tipo de empecilho. Outro motivo alegado para a ausência do sexo feminino como objeto de estudo da medicina era o receio do que poderia acontecer se, durante uma pesquisa, uma paciente engravidasse. E se ela abortasse por causa dos testes? E se a criança nascesse com alguma má-formação?
A ausência do sexo feminino nas pesquisas clínicas, contudo, desencadeou episódios trágicos. Na década de 50, o medicamento dietilestilbestrol (ou DES, apenas) era um antiabortivo bastante popular. Vinte anos mais tarde, notou-se que as meninas nascidas de antigas usuárias do DES eram mais suscetíveis a um tipo raro de câncer vaginal. Outro episódio igualmente triste foi o da talidomida. Aprovado no fim dos anos 50 para o controle das náuseas da gravidez, o medicamento causava deformações nos fetos. Antes de chegar à farmácia, a talidomida só havia sido testada em ratos de laboratório – e, entre as cobaias, não havia nenhuma fêmea que estivesse prenhe. Desgraças como a da talidomida levaram a mudanças profundas na regulamentação dos testes clínicos. Em 1985, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos alertou: "A falta de pesquisas que forneçam dados sobre as mulheres compromete a qualidade das informações e dos cuidados médicos para com elas". Mas foi apenas em 1993 que o governo americano obrigou a inclusão de mulheres em pesquisas sobre doenças e medicamentos – o que acabou por fazer com que fossem criadas legislações semelhantes em outros países. No Brasil, apesar de não haver uma legislação específica, a inclusão de mulheres faz parte da rotina das pesquisas clínicas. Atualmente, a participação das mulheres nos estudos clínicos mais cuidadosos, bem planejados, é de, em média, 20%. Pouco ainda, mas melhor do que ocorria até meados dos anos 90, quando a presença delas era praticamente nula.
É evidente que o ambiente tem um peso grande tanto na saúde feminina como na masculina. "Homens e mulheres não existem no vácuo. A maneira como eles se desenvolvem e sobrevivem é uma conseqüência direta da cultura e da sociedade em que estão inseridos", diz a médica Marianne Legato. Sabe-se que as mulheres muçulmanas têm menos probabilidade de contrair malária do que os homens muçulmanos. Talvez não apenas porque o sistema imunológico feminino seja mais forte, mas também porque, ao viverem com a maior parte do corpo coberta quase o tempo todo, elas estão menos sujeitas às picadas do mosquito transmissor da doença. Outro exemplo, nesse caso inverso: tinha-se como certo que a depressão era mais comum entre as mulheres por uma questão única e exclusivamente de química cerebral. Novos estudos revelam que também existe um fator cultural associado a essa diferença epidemiológica. Como os homens não têm o costume de falar sobre seus sentimentos, muitos deles acabam por mascarar os sintomas da depressão com o alcoolismo, o abuso de drogas, o jogo, a agressividade ou a obsessão pelo trabalho. "O conhecimento mais aprofundado da saúde de ambos os sexos é de enorme importância para aperfeiçoar a prática médica, principalmente com o aumento da expectativa de vida", disse a VEJA a médica Vivian Pinn, dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos.



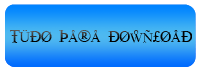



0 comentários:
Postar um comentário